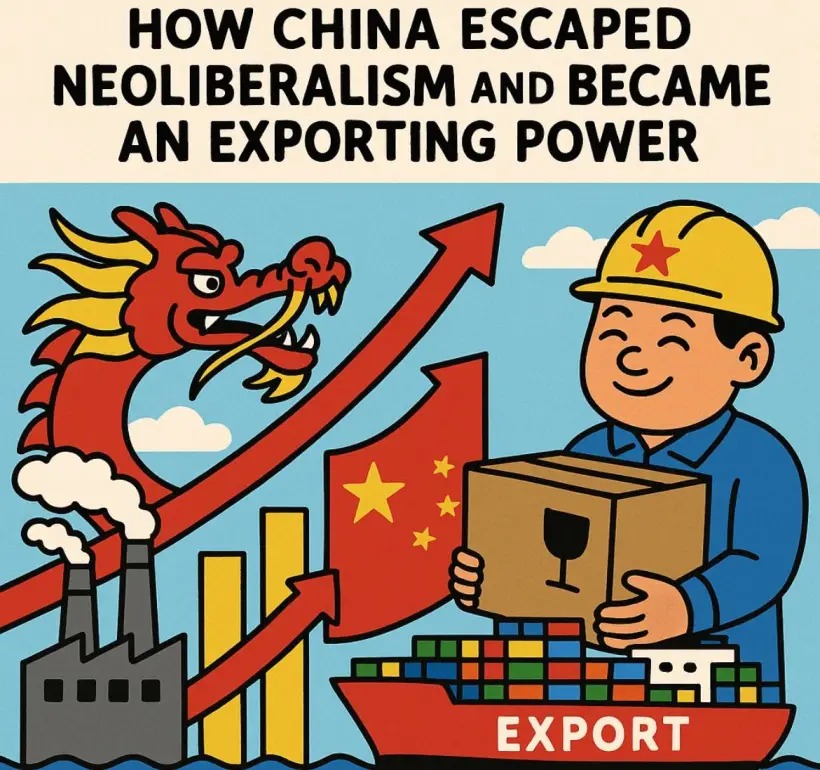Em 1990, a China exportava cerca de US$ 45 bilhões por ano. Em 2021, esse número saltou para impressionantes US$ 3,6 trilhões — um crescimento de 80 vezes em apenas três décadas. Esse desempenho não foi fruto do acaso nem de adesão à cartilha neoliberal dominante nos anos 1990. Enquanto o mundo em desenvolvimento era pressionado por organismos multilaterais a adotar privatizações em massa, abertura comercial abrupta e ajustes fiscais rígidos, a China trilhou um caminho diferente — de forte planejamento estatal, pragmatismo e políticas industriais ativas.
O modelo chinês combinou três elementos essenciais. Primeiro, a transição gradual da economia planificada para uma economia de mercado, adotando o chamado sistema “dual track”: enquanto mantinha cotas fixas e planejamento para setores estratégicos, permitia que o excedente de produção fosse vendido no mercado livre. Segundo, preservou empresas estatais em setores-chave como energia, telecomunicações e infraestrutura. Terceiro, atraiu investimento estrangeiro de forma seletiva, exigindo contrapartidas como joint ventures com empresas locais e transferência de tecnologia. Era o mercado a serviço da estratégia nacional, não o contrário.
A inspiração veio do próprio Leste Asiático. Deng Xiaoping, líder da abertura econômica chinesa, visitou Singapura nos anos 1980 e decidiu que a China criaria “várias Singapuras” em seu território. O modelo de crescimento voltado à exportação já havia sido testado com sucesso no Japão, Coreia do Sul e Taiwan. A diferença é que a China o aplicaria numa escala inédita: uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Para isso, criou as Zonas Econômicas Especiais — verdadeiros laboratórios do milagre chinês — com incentivos fiscais, terrenos subsidiados, infraestrutura de classe mundial e uma brutal desvalorização cambial nos anos 1990, que tornou seus produtos extremamente competitivos.
Mais do que ideologia, o que guiou a China foi o pragmatismo. O país não hesitou em proteger setores estratégicos e forçar o aprendizado tecnológico. Em vez de seguir a lógica liberal da “vantagem comparativa”, buscou construir vantagens competitivas dinâmicas. A evolução do Índice de Complexidade Econômica — de -1,0 nos anos 1980 para +0,6 nos anos 2010 — revela o avanço da China em setores sofisticados como eletrônicos, autopeças e energias renováveis. Shenzhen, que era uma vila de pescadores, tornou-se um polo tecnológico global com 15 milhões de habitantes.
A comparação com outros países reforça a singularidade da trajetória chinesa. A Argentina, ao seguir fielmente as diretrizes do Consenso de Washington, mergulhou em crises recorrentes. A Rússia, ao adotar a “terapia de choque” neoliberal, viveu uma década de colapso. A China, por outro lado, evitou os choques, controlou o ritmo das reformas e colheu os frutos. Em 2008, enquanto o mundo afundava em crise, a China acumulava US$ 4 trilhões em reservas e já havia se tornado a maior economia do mundo em paridade de poder de compra.
É verdade que o modelo chinês enfrenta hoje seus próprios limites. O crescimento baseado em exportações e investimentos estatais está esgotado. A nova fronteira é a inovação — e a China vem investindo pesado em inteligência artificial, semicondutores, biotecnologia e energia limpa. Mas o legado é claro: o país provou que não há uma única via para o desenvolvimento. É possível escapar da armadilha da renda média com um Estado coordenador, estratégia de longo prazo e compromisso com a construção de capacidades produtivas.
A experiência chinesa é um convite à reflexão para países em desenvolvimento. Não se trata de copiar modelos, mas de entender que soberania econômica e visão estratégica são peças-chave para transformar estrutura produtiva e subir na escada tecnológica. Contra o dogma do “menos Estado”, a China mostra que o desenvolvimento exige, na verdade, um Estado melhor — com capacidade de planejar, investir e aprender.



FONTE: https://www.paulogala.com.br/como-a-china-escapou-do-neoliberalismo-e-se-tornou-uma-potencia-exportadora/